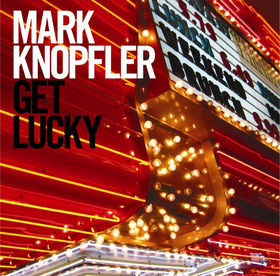Tarantino. Este nome, seria suficiente para justificar e resumir todas as linhas que se seguem. Mais, bastaria por si só para preparar qualquer alma para um qualquer filme com a sua chancela. Mas a cada fita que passa achamos que o Tarantino precedente se encontra vazio de significado, ou por outro lado, completa-se a cada novo filme. Da ironia que ele transmite sobressai a mais importante das verdades: Tarantino é ele próprio em cada imagem no ecrã, a cada fala, a cada momento musical, mas é mais, não sendo um original (no mais perfeccionista dos sentidos), cultiva o melhor dos filmes dos seus mentores, e que mentores escolheu este homem. Finalmente o seu Once upon a time… na França ocupada. Um "Western spaghetti" e épico bélico , onde os nazis são os índios, apesar de os americanos serem liderados por um apache!!! O filme que Tarantino desejava fazer há muitos anos (8 anos a escrevê-lo), o seu 2º argumento original desde “Pulp Fiction”. O seu tema preferido continua tão activo quanto antes: a vingança.
“Inglourious Basterds” não é, na verdade, um filme inspirado na II Guerra Mundial, mas sim uma forma de ver estes eventos e um estilo de filmes que encontra ressonância nos filmes westerns de Sergio Leone. É bastante visível o uso do anti-heroi neste filme, encarnado na personagem do Coronel Hans Landa, “O Caçador de Judeus”. Este é o verdadeiro protagonista do filme, um verdadeiro anti-heroi, cujas acções conduzem o enredo ao longo do filme. À semelhança de outros vilões da história do cinema, sentimo-nos atraídos por este homem hediondo, que emana charme e carisma, apesar das suas acções serem o verdadeiro espelho do seu carácter.
A referência ao filme de Enzo Castellari de 1978, “Inglourious Bastards”, é inevitável. Mas engane-se quem pensar que o filme de Tarantino é um “remake”. A sua natureza é outra. Não é por acaso que o título de Castellari se refere aos “bastards” e o de Tarantino aos “basterds”. É o preciosismo que faz a diferença. Porque é que "bastards" deu em "basterds", qual é a coisa do "e"? Diz Tarantino, numa entrevista exibida pelo Ípsilon, "É um floreado artístico que não posso explicar. Jean-Michel Basquiat tirou um L da palavra Hotel e colocou-o num quadro seu. Se ele fosse a explicar porque é que fez isso..." Não é preciso dizer mais...
Aquilo que Tarantino faz, não é recriar um filme, mas uma ideia de cinema e de género. A realização é mais uma vez brilhante, cada capitulo é filmado como um filme autónomo, o potencial das personagens assim o permite, surpreendendo-nos sempre. De capítulo em capítulo, de golpe de teatro em golpe de teatro, o contágio e espectáculo deste impede qualquer forma de exaustão da nossa parte. Um verdadeiro espectáculo da palavra proporcionado pela inteligência de Tarantino. A grande ironia deste filme é ver um regime como o nazi, construído e sustentado em grande parte pela imagem (e pela imagem do cinema), ser destruído pela sua própria "arma" de propaganda, o cinema.
Neste filme, Tarantino incluí-nos numa conspiração bicéfala de objectivo único: exterminar o nazismo pela raiz, ou antes pela fina-flor, uma vez que pretendemos destruir os altos comandos deste regime (consequência directa: fim da II Guerra Mundial). E quando digo inclui-nos, não é um exagero ou simples metáfora: desde o primeiro minuto de filme (e que cena de abertura deliciosa!) somos rapidamente incluídos neste plano trágico, e por muito que sejamos seres transcendentes (fora daquela ordem, apenas com capacidade de observar) perpetuamos a existência de cada momento. Num rodopio de significados desvirtuados, encontramos em cada cena a subversão de símbolos que passam de lado-para-lado como bola em jogo de criança, com a simplicidade de uma brincadeira, mas com o mais nobre dos sentidos. O amor é um simples adereço, ou será a forma final deste enredo? O corpo humano uma simples ferramenta da essência, ou a essência o resultado do composto físico? A verdade um contexto histórico, ou a historia um contexto da verdade? Quantas perguntas ficam por fazer e contudo todas as respostas são dadas no imaginário (ou na imaginação de cada um) por este filme!
Nota: Hitler encontra-se oficialmente redimido de todas as suas atrocidades, pode seguir em direcção a um qualquer paraíso. Ironicamente é este o sentimento que nos resta no fim de observar a morte deste no filme. Tarantino sabia, nós sabíamos e talvez o mundo soubesse: a forma como a morte (real) de Hitler se deu deixou no descrédito (escondido como um rato) – nos pícaros da loucura, dizem alguns –, morto pelos seus aliados (num acto de cobardia), esta figura histórica. Agora chega deste anjinho, foi finalmente vingado, morto ao som da raiva: enfim teve o fim que a sua vida merecia! Se não fosse por mais coisa nenhuma, encontrávamos neste pormenor delicioso toda a justificativa para ver o filme. Mas esta é apenas uma parte periférica do filme: não chega a ser premissa, nem tão pouco centro, é um resultado do brilhante humor histórico – sarcástico do génio de Tarantino. E por falar em génio: não observem as personagens, deixem-se envolver: se cada natureza morta, cada frame, faz sentido neste filme é animada pelo espírito das interpretações e sobretudo das construções das personagens/actores (de resto um dos mais significativos trunfos de Tarantino/mentores deste ao longo da sua carreira). Como disse alguém um dia: que sentido fará um filme com almas comuns, para isso vemo-nos ao espelho ao fim de cada dia, para mais vamos ao cinema e sonhamos! E a que ponto pode ser levado isto a sério.
Constatação: Nunca a violência teve um sentido tão estético e o sangue derramado tanta dignidade, em suma, o lado infame da humanidade faz-nos rir no mais negro dos sentidos – e ainda assim somos felizes!
Esperamos com certeza que este senhor, imagem de marca do cinema independente norte-americano, nos continue a surpreender. Como o próprio diz, ainda tem muito para dar ao cinema. Um pouco à imagem de Leone, cada novo filme parecia ainda mais brilhante que o anterior.
Por John e Nicolau